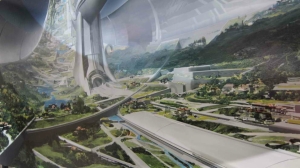9.3/10
Abordagens de física quântica no universo macroscópico são porventura muito difíceis para o meio não científico, uma vez que supõe-se na física clássica, um comportamento bastante inesperado das partículas/onda pelo senso comum, algo inimaginável em uma escala de corpos de dimensões, comparativamente, extensas.
Como muito do mundo observável não parece funcionar, a princípio, como uma expansão da sistemática quântica, tendemos a isolá-la para não lidarmos com questões probabilisticamente improváveis. Naquele universo, entretanto, o número de eventos parece ser astronômico, tornando situações de aparente implausibilidade, razoáveis e até mesmo causas de eventos cruciais no universo.
Devido ao conhecimento prévio necessário, bem como a dificuldade do desenvolvimento do raciocínio através de bases já complexas e o requerimento de certa habilidade de abstração, é raro que tais abordagens sejam evocadas pela sétima arte. Quando acontece, normalmente as realizações são contidas e constituem bases sofisticadas para histórias comuns ou inteligentemente construídas, proporcionando a sensação de complexidade da obra em si, mas na verdade apontar superficialidade.
Coherence adota as graves consequências do universo quântico emergir do modelo teórico aplicado ao macroscópico por via da experiência teórica do Gato de Schroedinger, caso de amplo conhecimento mundial e que suscita a curiosidade de teóricos e interessados por todo o globo terrestre. Não cabe aqui descrevê-la sobre pena do texto ficar demasiado longo e, pela sua ampla difusão em textos na internet.
Não só os corpos físicos dos protagonistas se sujeitam, entretanto, aos efeitos da decoerência, mas o filme é corajoso suficiente para lidar com os embates psicológicos e todas as alterações de altíssima complexidade envolvidas pelo fato de sermos humanos e, portanto, com uma consciência e julgamentos hiperativos ao longo da vida, que mudam de acordo com nossas experiências.
Na tela, parece tudo bem mais simplificado, a fim de tornar palpável o universo ao espectador. Se trata de um jantar entre oito amigos (os diálogos são excepcionais e muito endógenos à discussão, mas frenéticos demais) onde um evento astronômico central produz um efeito estranho em duas instâncias: fenômenos estranhos no nível da realidade (naturalmente, sujeitos à apreciação da câmera como manipuladora da visão de quem assiste e de seu caráter) e no nível psicológico (onde há uma perceptiva alteração comportamental em todos os personagens, um dos principais focos investigativos do filme). Tal problemática gera um risco de potencial infinito aos personagens, porque não se sabe ao certo ao que estão expostos, especialmente diante dos inúmeros eventos inexplicáveis ocorridos posteriormente. Um grande enigma, por assim dizer.
Mas, como em Primer, não lidamos aqui com pessoas estúpidas. Muito pelo contrário, os indivíduos são bastante inteligentes (embora não sejam gênios como no filme de Carruth) e suas conclusões são sempre agregáveis à trama. Há um grau elevado de percepção do que está acontecendo, a medida que as pistas se acumulam.
O que mais impressiona são as soluções encontradas pelos personagens e as possibilidades que eles levantam, que jamais subestimam quem vê.
Há um imenso universo de discussão em Coherence, e, você pode assisti-lo em muitos níveis de compreensão. Certamente ficaria meses apontando situações para análise… Mas não é difícil perceber que está entre as obras mais complexas e fantásticas da história da ficção cinematográfica para quem quiser se enveredar por suas possibilidades. Obra prima.